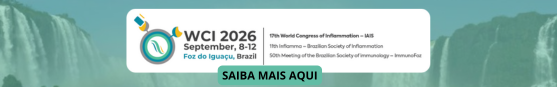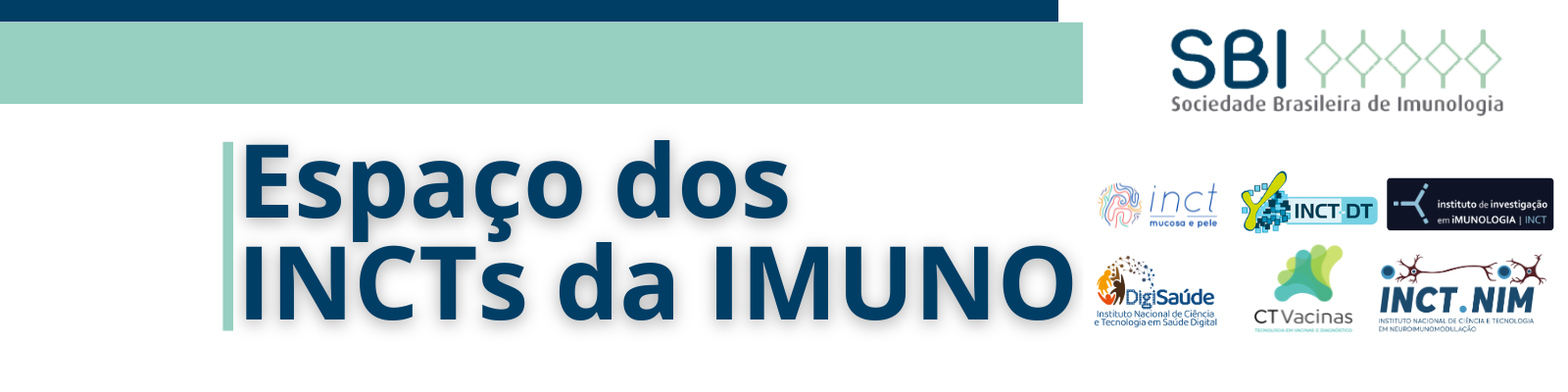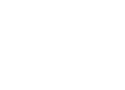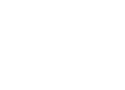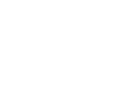Nelson Vaz
Em sua estranha história, a imunologia surgiu pressionada pela medicina como um ramo da bacteriologia com a finalidade de inventar novas vacinas, principalmente pelo trabalho de Pasteur, na Paris do século dezenove. Claude Bernard, que defendia a ideia de um meio interno robustamente conservado pelo organismo, não aceitava a ideia de uma etiologia específica das doenças microbianas. Pasteur esperou que Bernard morresse para publicar sua teoria dos germes (Pasteur, 1878). Reforçada pela caracterização dos anticorpos —antitoxinas — colhidas em animais que salvaram as vidas de crianças com difteria, a imunologia cresceu amparada na metáfora militar de defesa contra agressores microscópicos.
Em seus 130 anos de existência, a imunologia insistiu nesta direção, mas conseguiu inventar relativamente pouco na prevenção (vacinas) e menos ainda no tratamento de doenças infecciosas (soroterapia). Várias décadas de pesquisa de alto nível sobre uma vacina contra o HIV, por exemplo, nos deixou até agora na estaca zero. Há trinta e tantos anos, imunologistas em Paris e Madrid alertavam contra o perigo de insistir apenas em tentativas de reforçar as respostas imunes contra o HIV (Martinez et al. 1988). Há situações nas quais responder mais fracamente à infecção pode ser uma vantagem, uma ideia que vai na contra-mão do que se imagina ser a finalidade das vacinas. A sugestão de que a AIDS decorre de uma resposta exacerbada ao HIV, antecipava a mensagem hoje contida no termo “tolerância a doenças”.
Na atual pandemia pelo SARS-cov-2 muitas mortes dependem de uma reação exagerada do corpo ao vírus, que promove uma “cascata de citocinas”. Mas a maioria das pessoas infectadas permanece assintomática; possivelmente, algumas se tornam “portadoras sãs” por algum tempo, como o famoso caso de Mary Mallon — a typhoid Mary (Bartoletti, 2015); “portadores sãos” são também comuns nas epidemias de cólera. Um enorme número de seres humanos transporta o vírus Herpes simplex-1, que aqui e ali, esporadicamente desencadeia lesões muco-cutâneas, e apenas raramente, infecções graves ou letais, como encefalites.
A revolução em nosso modo de ver o “mundo microbiano” (Collen, 2016) torna este problema muito mais presente. Os micróbios (bactérias, archeas, protozoários, etc.) são tantos, tão diversos e ubíquos que nos fazem entender que não há, de fato, um mundo não-microbiano. Nenhuma parte do mundo é naturalmente “limpa” de micróbios. Há, então, um enorme número de segredos nesta convivialidade com o mundo invisível que abriga a maior parte dos seres vivos do planeta. As partículas biológicas mais comuns na água limpa dos oceanos são vírus (bacteriófagos) e os animais silvestres abrigam entre 500 e 800 mil tipos diferentes de vírus em adoecer.
Assim considerada, é raríssima a ocorrência do “transbordamento” de um destes vírus para a espécie humana, que provoque uma zoonose, como a atual covid-19. Além disso, com todas as tragédias que esta pandemia tem criado, ela é muito mais benigna do que a pandemia de influenza de um século atrás, conhecida como a gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de seres humanos, em uma população que era 6-7 vezes menor que a atual. Se, naquela época fosse possível o transporte internacional rápido como o atual, a tragédia teria sido ainda muito maior.
Zoonoses gravíssimas ocorreram entre 10 e 6 mil anos atrás, no neolítico, quando foi ensaiada a domesticação de uma grande variedade de mamíferos e aves, antes silvestres. Associadas à adoção de uma dieta inadequada (pobre em ferro) baseada em cereais e a um grande aumento da aglomeração humana em condições sanitárias precárias, estas epidemias ameaçaram a própria sobrevivência da espécie humana (James Scott, 2017). Atualmente, pela explosão populacional ocorrida desde o século dezenove, novas possibilidades de zoonoses estão ocorrendo, não só pelo aumento da promiscuidade com especies silvestres, como pela rapidez do transporte internacional.
Trazida às pressas para o centro das atenções, a imunologia pode mostrar seu poder tecnológico e sua fragilidade conceitual. A discussão da “tolerância a doenças” (Ayres, 2020; Medzhitov et al., 2012) desponta como um capítulo importantíssimo na história da imunologia, que relembra o alerta de Martinez et al. em 1988, que nos alerta sobre o risco de aumentar nossa reatividade.
Bibliografia
Ayres, J. S. (2020). The Biology of Physiological Health.
Cell, 181(2), 250-269. doi:10.1016/j.cell.2020.03.036
Bartoletti, S.C. (2015) Terrible Typhoid Mary: A True Story of the Deadliest Cook in America,
New York, Houghton Mifflin Harcourt.
Collen, A. (2016) 10% Humano
Rio de Janeiro, Sextante
Martinez, C. A., De la Hera, A., Alonso, J. M., Marcos, M. A. R., Marquez, C., Toribio, M., & A., Coutinho (1988). Immunological consequences of HIV infection: advantage of being low responder casts doubts on vaccine development. Lancet, 331(8583), 454-457.
Medzhitov, R., Schneider, D. S., & Soares, M. P. (2012). Disease Tolerance as a Defense Strategy. Science, 335, 936-941.
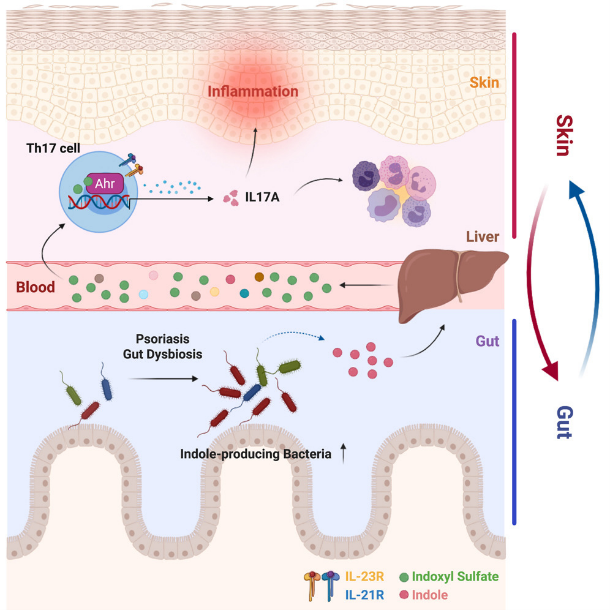
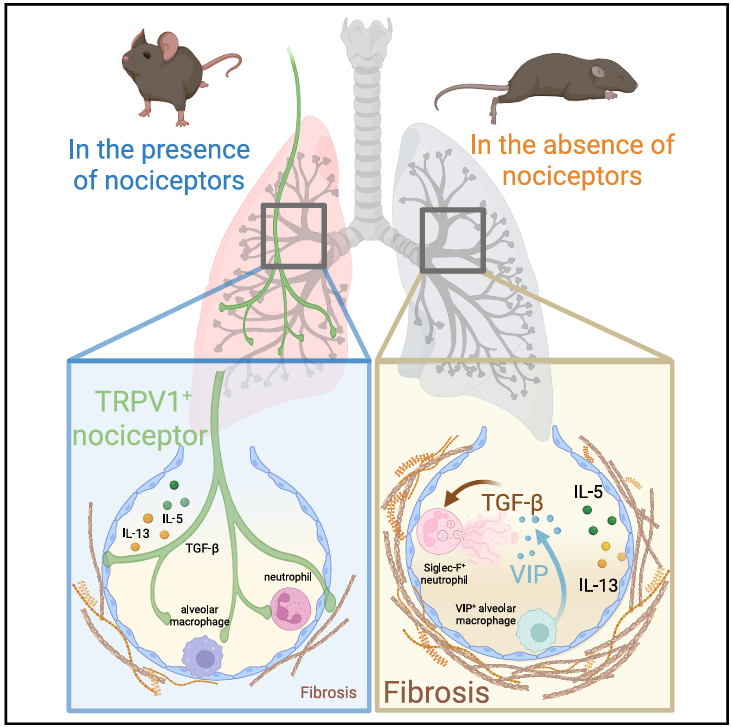
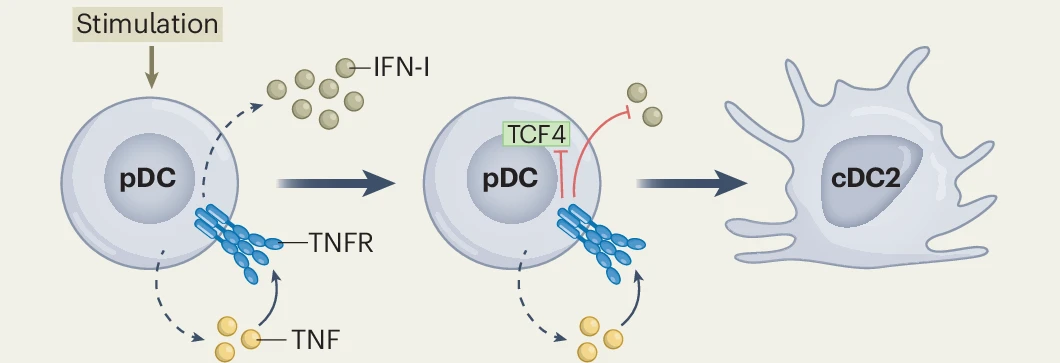
- Apaixonados por Imunologia
- Comunicado
- Conteúdo Publicitário
- Curso
- Dept. Imunologia Clínica
- Dia da Imunologia
- Dia Internacional da Imunologia
- Divulgação científica
- Edital
- Especial
- Especial Dia da Imunologia
- Especial Doença de Chagas
- Evento
- Eventos
- Exposição COVID-19 da SBI
- História da Imunologia no Brasil
- Homenagem
- Immuno 2018
- Immuno2019
- Immuno2021
- Immuno2022
- Immuno2023
- Immuno2025
- Immuno2026
- IMMUNOLAC
- Immunometabolism2022
- Imune
- Imune - o podcast da SBI
- ImunoWebinar
- INCT Imuno
- Institucional
- IUIS
- Luto
- NeuroImmunology 2024
- Nota
- Nota Técnica
- Notícia
- o podcast da SBI
- Oportunidades
- Outros
- Parecer Científico
- Pesquisa
- Pint of Science 2019
- Pint of Science 2020
- Política Científica
- Sars-CoV-2
- SBI 50 ANOS
- SBI.ImunoTalks
- Sem categoria
- Simpósio
- SNCT 2020
- SNCT 2022
- Webinar
- WORKSHOP
.png)